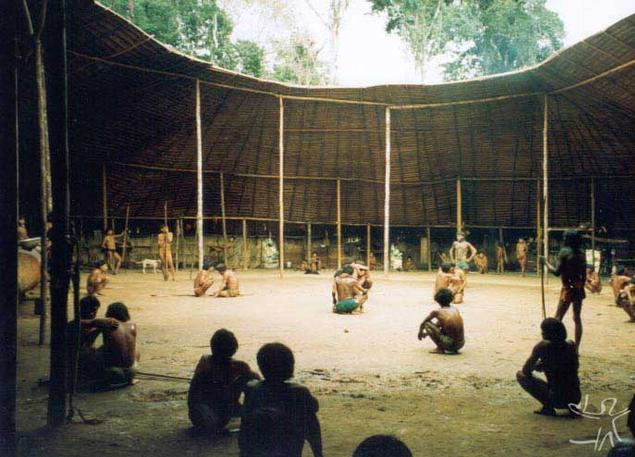Perda de plantios, redução de peixes, baixo nível de água dos rios e difícil acesso à água potável fazem com que seja decretada situação de calamidade em diversos municípios do Pará.
Prestes a aterrissar em Santarém, no Pará, o espanto ecoa em voz alta pelo avião, apontando a gravidade da seca. Pela janela diminuta, a imensidão das águas recua, deixando bancos de areia expostos na paisagem.
Debaixo de um céu que não derrama chuva há meses, e já caminhando pela secura dos quintais da agricultura familiar, torna-se corriqueiro testemunhar árvores jovens se transformando em esculturas emblemáticas da seca.
“Aqui não temos o costume de trabalhar com irrigação. Trabalhamos esperando que caia do céu”, conta Raimundo Nunes, aos pés de um cupuaçuzeiro morto de sede.
“Não só as frutíferas, mas algumas espécies nativas como a andiroba estão sofrendo bastante”, diz o engenheiro agrônomo em sua casa, na Área de Proteção Ambiental (APA) Jará, em Juruti, oeste do Pará.
Desde maio, a maior parte do oeste da Amazônia registra chuvas abaixo da média. Para além da variação natural e cíclica que caracteriza os períodos de cheia e estiagem na região, a seca severa deste ano se deve ao avanço das mudanças climáticas e à interferência do El Niño, fenômeno meteorológico que eleva as temperaturas e intensifica a seca nas regiões Norte e Nordeste.
Na zona rural de Juruti (PA), o plantio em agrofloresta busca recuperar área degradada; mudas mais jovens sofrem o impacto da seca. Foto: Julia Lima/Mongabay
A perda de plantios, a redução dos peixes, a complexa logística com o baixo nível de água dos rios e o difícil acesso à água potável fizeram com que fosse decretada no
Diário Oficial situação de calamidade em Juruti, em Santarém e em outros municípios do Pará. O
Ministério Público também fez recomendações de um plano para diminuir os danos da crise hídrica em Juruti, recomendando a recuperação da cobertura florestal das propriedades rurais localizadas às margens do Rio Amazonas e seus afluentes.
“Nós tínhamos uma base de 200 produtores cadastrados, mas só que hoje na feira tá vindo muito pouco. Do jeito que tá essa quentura grande, não tem produção. A roça tá morrendo. Tá muito seco, a gente tira e a mandioca tá cozida. A gente tira muita mandioca e dá pouca farinha”, conta Zeires Andrade Faria, coordenador da Feira de Agricultores Familiares de Juruti. “Até o momento, não tem nenhuma assistência para nós.”
Foco de incêndio florestal visível no horizonte: imagem rotineira durante a seca severa no oeste do Pará. Foto: Julia Lima/Mongabay
Poço seco, rio baixo
Às margens do Lago Tucunaré, José Maria de Sousa Melo, superintendente regional do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) no oeste do Pará, mostra abacateiros, cacaueiros e cafezeiros se curvando em decorrência da seca e diz que os maiores prejudicados são os agricultores de várzea.
A agricultura familiar tem grande relevância no oeste paraense: metade do território é ocupada por áreas regulamentadas onde se pratica a atividade, entre elas Projetos Integrados de Colonização (PIC), Projetos de Assentamento (PA) e Unidades de Conservação (UC) de Uso Sustentável.
Lago Tucunaré, em Juruti: água quente com volume baixo não convida os moradores da região ao banho. Foto: Julia Lima/Mongabay
“Nós estamos responsáveis por 29 municípios e dentro deles nós temos praticamente 240 assentamentos tradicionais, alguns deles em Juruti”, conta Melo. “Tem famílias que tradicionalmente cultivam nesse período melancia, jerimum, maxixe, outros produtos de várzea, e estão com dificuldade no transporte desses produtos. Como baixou muito o rio (Amazonas), as embarcações estão ficando distantes, então tem gente que está perdendo o produto por conta desse distanciamento”.
No tempo livre, Melo se dedica aos cultivos da família num terreno às margens do Lago Tucunaré. Ali nossa reportagem avistou um jacaré, duas tartarugas e algumas aves. Num novembro com a sensação térmica ultrapassando os 40 graus centígrados, os moradores locais desaconselham o banho no lago — não por causa do jacaré, mas porque faz tempo que a água deixou de ser refresco, está quente. E, como em outras localidades, o poço artesiano que usavam há anos também secou. O conjunto dessas variantes aumenta a preocupação com a segurança alimentar na região.
“Em terra firme, o prejuízo se dá para quem cultiva a roça de mandioca. As pessoas estão deixando de fazer roçado porque está muito forte a estiagem e a orientação é que se evite fazer queimadas”, indica Melo.
“Então, é muito preocupante essa questão, porque esses são os produtos que sustentam essas famílias. Uma vez que elas deixarão de produzir e de cultivar as suas roças, elas vão ter problemas nos próximos meses”.
José Maria de Sousa Melo, superintendente regional do Incra no oeste do Pará, observa abacateiros castigados pela seca. As mangueiras resistem. Foto: Julia Lima/Mongabay
Ainda muito utilizado na região, o sistema de corte-e-queima, herdado das populações originárias, consiste na derrubada e na queima da floresta em uma área de até um hectare, o que produz grande volume de cinzas, aumentando a fertilidade do solo. Depois de alguns anos, quando o solo já não está mais fértil e o agricultor repete o processo em nova área de floresta.
O problema é que, com as mudanças climáticas aceleradas e o clima mais seco, a floresta se torna mais inflamável. Qualquer fogo oriundo do desmatamento, de manejo agropecuário e também da agricultura de subsistência pode escapar e invadir a floresta, causando incêndios florestais de enormes proporções. Em outubro, um megaincêndio se alastrou por milhares de quilômetros quadrados na região de Santarém.
Por causa disso, “a gente vem incentivando a mudança do corte-e-queima para a agrofloresta”, diz Lucieta Martorano, meteorologista e pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental.”
A mandioca, alimento essencial para a subsistência na Amazônia, também sofreu as consequências da seca: diminuiu de tamanho ou nem mesmo vingou. Foto: Julia Lima/Mongabay
Cultivo de diversidade
Os Sistemas Agroflorestais
não são exatamente novidade na Amazônia, já que os povos locais há muito praticam o plantio em sistemas diversificados.
Nas últimas duas décadas, no entanto, eles vêm crescendo de forma mais estruturada:reúnem diferentes espécies, combinando árvores nativas e cultivos agrícolas O sistema considera também espaçamento entre as mudas, sombreamento, podas e manejo das espécies. Além de não lidar com o manejo do fogo, a agrofloresta aumenta a biodiversidade e tem potencial para restaurar áreas agrícolas degradadas.
Iniciativas robustas, como a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu (Camta) e o Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado (Reca), já mostraram resultados promissores na Amazônia, sendo mais rentáveis do que a agricultura de corte-e-queima para comunidades de produtores familiares.
Estima-se que, em 2017, em toda a Região Norte, 430 mil trabalhadores, sendo 90% deles agricultores familiares, cultivavam SAFs em 200 mil estabelecimentos, somando 8 milhões de hectares.
Agrofloresta recentemente instalada em Juruti. Foto: Julia Lima/Mongabay
As árvores de grande porte que vão ser implantadas: será que não vai demorar? Será que a gente vai estar vivo pra ver realmente isso daí?”, pensava Adeílson da Silva quando começou a implementar uma agrofloresta no seu terreno. “A gente plantou primeiro jerimum, segundo nós plantamos a melancia e a gente plantou também a pimenta-de-cheiro dentro da área.”
Adeílson conta que o mamão se saiu muito bem e depois vieram as mudas de graviola. Morador da zona rural, na comunidade de Batata, em Juruti, o pai de seis filhos trabalhava apenas com a roça de mandioca e tinha algumas galinhas para consumo.
O agricultor recebe assistência técnica e incentivo do Instituto Juruti Sustentável (Ijus), que estima ter apoiado a instalação de 60 hectares de SAFs no município. No momento, o Ijus trabalha a implementação de novos SAFs por meio do Projeto Ingá, que tem investimentos da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), da Citi Foundation, da Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA) e da Alcoa Foundation.
Adeílson da Silva produz a farinha de mandioca em seu quintal: anteriormente trabalhava apenas com a roça de mandioca, hoje experimenta o plantio em SAF em parte do terreno. Foto: Julia Lima/Mongabay
Ainda jovem, porém, o SAF de Adeílson também sofre com a seca. Apesar de contar com algumas horas semanais de irrigação – que só não é mais abundante por causa dos altos custos do combustível para manter o gerador ligado, puxando a água do igarapé próximo à sua casa –, algumas mudas não estão resistindo à falta de chuvas.
Lucio dos Santos Moraes está avaliando a possibilidade de instalar também um SAF em seu terreno. Ele deixou de plantar apenas a mandioca e o café e começou a experimentar o plantio do açaí em consórcio com o café, mas está sentindo com intensidade os efeitos da seca. “Nessa época aqui a gente já estava vendendo a pupunha, já tinha bastante pra vender e ela é uma plantação quase permanente, vai dando. Agora, devido ao verão, não teve produção”, conta.
“Nós temos plantio de café, pupunha, abacate e plantas pequenas. O açaí está sendo mais resistente no verão porque tem uma área sem irrigação e ele não morreu, diferente da pupunha, que está quase 100% morta”, conta. “A gente não precisava de irrigação. E agora, mesmo com a irrigação precária que a gente tem, não é o suficiente”.
Lucio dos Santos Moraes começou a trabalhar com plantio em consórcio e estuda a possibilidade de instalar um SAF em seu terreno. Foto: Julia Lima/Mongabay
Além da morte de culturas já plantadas, a seca prolongada deverá atrasar os plantios de ciclo curto — como feijão, milho, abóbora — que ocorreriam normalmente em dezembro, quando começa a estação chuvosa. Mas as chuvas estão previstas para fevereiro.
“Uma forma importante de minimizar o impacto da seca seria se os agricultores de base familiar tivessem uma irrigação que o governo incentivasse e uma irrigação de baixo custo”, diz Lucieta Martorano, que já trabalhou em Santarém com projetos de irrigação.
Outras questões desafiadoras na região são a logística, a comercialização e políticas públicas que favoreçam o pequeno agricultor, a exemplo das políticas de compras públicas com foco em segurança alimentar e nutricional.
“A gente precisa de políticas públicas integradoras”, diz Joice Ferreira, bióloga e pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental. “Esse exemplo do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) é o tipo de coisa que a gente precisa ter desenhado para lidar com o problema. Ou seja, você tem um programa de compra que está aumentando demanda. Você tem que favorecer iniciativas em que os próprios agricultores são protagonistas e líderes.”
Mudas cultivadas por Adeílson da Silva para serem incluídas em seu SAF no próximo período de chuvas. Foto: Julia Lima/Mongabay
Polinizar quintais
Uma alternativa que traz benefícios para os quintais produtivos é o consórcio com abelhas nativas, como as espécies jupará (Melipona interrupta) e canudo (Scaptotrigona postica).
Raimundo Nunes é especialista em meliponicultura e cria abelhas em seu quintal. Já coordenou projetos e deu curso para 20 criadores de abelha da região de Juruti. “Utilizar essas abelhas para fazer a polinização dos quintais ajuda a ter uma produtividade melhor.”
Criação de abelhas nativas no quintal agroflorestal de Raimundo Nunes na APA Jará, em Juruti. Foto: Julia Lima/Mongabay
As abelhas nativas são aliadas dos agricultores porque fazem a polinização de espécies nativas da Amazônia, ajudam os frutos a crescer de forma mais uniforme, contribuem para manter a floresta em pé e são uma fonte de renda extra: ao mesmo tempo em que potencializam a produção agrícola também produzem o mel, que pode ser vendido.
“Tem um produtor que utiliza abelha para fazer polinização no plantio de melancia que ele faz todo ano, e ele percebeu que ele ganha tanto na produção da melancia quanto na produção do mel”, conta Raimundo enquanto degustamos o mel de sabor delicado da abelha jupará, direto da caixa de criação.
O técnico agrícola lembra, porém, que, para melhorar as condições das colheitas em tempos de mudanças climáticas, é imprescindível manter as florestas em pé. “A gente teve a questão do El Niño. Mas a questão da preservação da natureza, principalmente da floresta, contribui para que essa estiagem não seja tão forte, né? E que a gente não tenha a perda da biodiversidade também”, conclui Raimundo.
*O conteúdo foi originalmente publicado pela Mongabay, escrito por Sibélia Zanon e Julia Lima.