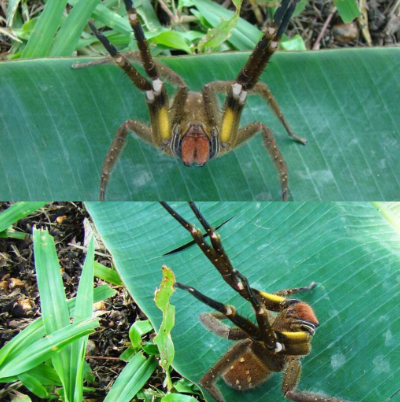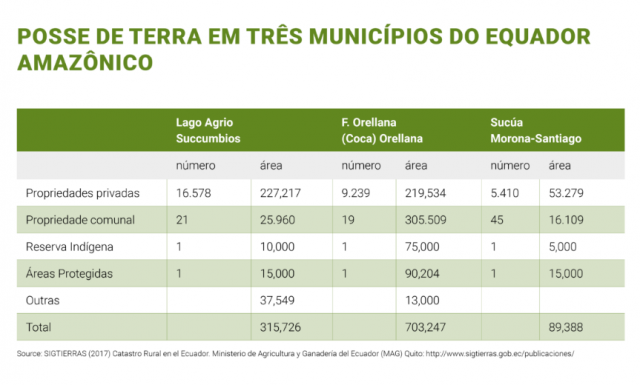O desenvolvimento de uma vida saudável, alcançada por meio de exercícios físicos é uma das principais preocupações das gerações atuais. E suplementos alimentares são elementos que tem se popularizado entre os praticantes de esportes. Creatina, albumina, colágeno, multivitamínicos, whey protein, são tantas as possibilidades na prateleira que, por muitas vezes, esquecemos que uma boa nutrição deve ser feita, principalmente, por meio da alimentação.
O Portal Amazônia conversou com especialistas para saber quais alimentos regionais podem melhorar o rendimento no pré e pós treino.
Afinal, como escolher alimentos pré e pós treino?
Pré-treino, como o próprio nome indica, são alimentos indicados para aumentar o rendimento, que devem ser consumidos antes de treinar. Os pós-treinos, por sua vez, são alimentos que ajudam na recuperação do músculo, após a atividade física.
De acordo com a médica Elzafã Gomes, “quando pensamos em pré e pós-treino temos que avaliar o objetivo. No caso do pré-treino preciso de energia para o corpo usar na hora da atividade física, já no pós-treino é a energia para recuperação muscular do corpo”.
Assim, por atenderem a diferentes funções, é importante compreender as necessidades a que cada um destes grupos atende. Os pré-treinos, por exemplo costumam ser selecionados por seu alto valor energético, gerando aumento no desempenho na hora de realizar os exercícios.
Mas como escolher os alimentos corretos e ainda incluir os amazônicos?
“A escolha dos alimentos no pré-treino deve partir do princípio que não necessite de grande digestão, para evitar desconforto gástrico. Então o ideal são alimentos leves, alimentos regionais que são mais fáceis de achar como frutas (banana e melancia), açaí, guaraná e outros. Já no pós-treino para recuperação é importante, além do carboidrato, a proteína como peixe, macaxeira, castanha da Amazônia e outros”, exemplifica Elzafã.
Açaí (pré-treino)

A deliciosa fruta amazônica que conquistou o Brasil, principalmente em sua versão frozen – servida como uma espécie de sorvete -, possui inúmeras funções.
Além de anti-inflamatória e protetor do cérebro contra os males do Alzheimer, o fruto é altamente energético, proporcionando um pré-treino apetitoso e eficiente.
Saiba mais: Conheça os benefícios do açaí, o alimento-remédio da Amazônia.
Castanha da Amazônia (pós-treino)

A castanha-da-Amazônia (também conhecida como castanha-do-Pará ou castanha-do-Brasil), por ser um alimento rico em proteínas e com poucas calorias, é uma ótima aliada na criação de fibras musculares. Além de ser facilmente transportada, servindo como possibilidade de lanche rápido e nutritivo.
Saiba mais: Qual o termo certo: castanha do Pará, do Brasil ou da Amazônia?
Guaraná (pré-treino)

O Guaraná que, por seu formato que se assemelha a um olho ocupa o imaginário como uma lenda do Amazonas, é também um dos maiores estimulantes energéticos da região.
Por suas propriedades é amplamente utilizado na fabricação de xaropes, barras alimentares e até refrigerantes. Pode ser utilizado como um potente pré-treino, especialmente pela quantidade de cafeína presente nos seus frutos.
Macaxeira (pós-treino)

Uma das maiores fontes de carboidratos dos trópicos, perdendo apenas para o arroz e o milho, a Macaxeira (também conhecida como mandioca ou aipim) pode ser uma importante aliada da nutrição pós treino.
Afinal, os carboidratos são responsáveis por reabastecer o estoque de energia do corpo, acelerando o processo de recuperação.
Leia também: Mandioca ou macaxeira: pesquisadora paraense explica as diferenças
Por fim, a médica Elzafã Gomes, deixa uma dica para quem quer atingir os objetivos na academia: “os alimentos são ótimas fontes de energia para melhorar o rendimento e consequentemente os resultados, tanto na perda de peso como no ganho de massa muscular”.
*Diego Fernandes, estagiário sob supervisão de Clarissa Bacellar