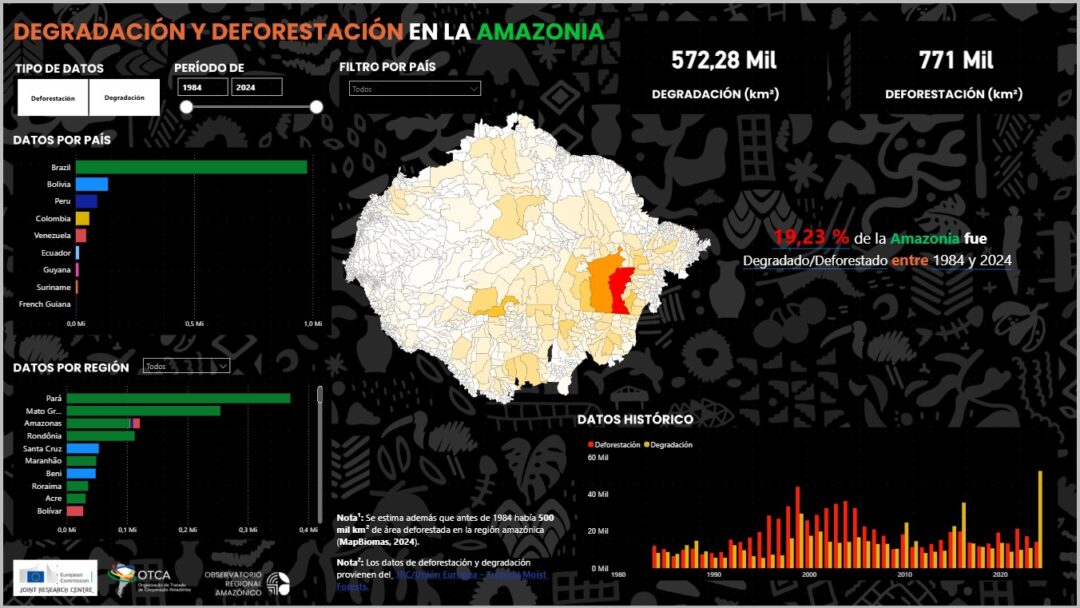Museu Integrado de Roraima após a demolição em maio de 2023. Foto: Caíque Rodrigues/Rede Amazônica RR
A Justiça de Roraima determinou que o governo do estado construa uma nova sede para o Museu Integrado de Roraima (MIRR) no prazo de 360 dias. A decisão, de 29 de janeiro de 2026, também condenou o Estado a pagar R$ 50 mil de indenização por danos morais coletivos devido ao abandono do acervo histórico e cultural.
No dia 26 de fevereiro, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) entrou com um recurso contra a decisão. O governo argumenta que os prazos estipulados pela Justiça são de “impossível cumprimento espontâneo”.
📲 Confira o canal do Portal Amazônia no WhatsApp
Ao Grupo Rede Amazônica, a Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) informou que está ciente da decisão e que já possui projetos para construção da nova sede e catalogação técnica do acervo. No entanto, devido à complexidade do trabalho, a secretaria ressaltou que vai pedir à Justiça um prazo mais adequado para cumprir as determinações com segurança e planejamento.
O Museu Integrado de Roraima foi inaugurado em 1985, antes localizado no Parque Anauá, zona Leste de Boa Vista, foi demolido pelo governo em maio de 2023, após 12 anos de abandono. Ficavam expostos no local materiais arqueológicos, peças de arte e até ossos humano e de animais.
Leia também: Único museu de Roraima é demolido após mais de uma década abandonado
A ação civil pública que gerou a condenação foi movida pelo Ministério Público (MP) de Roraima. O juiz Guilherme Versiani Gusmão Fonseca, da 1ª Vara de Fazenda Pública de Boa Vista, concluiu que houve grave omissão do Estado na proteção do patrimônio público.
O problema se agravou após a demolição do antigo prédio que abrigava o museu, segundo a promotoria.

Desde então, as peças históricas ficaram sem local definitivo e, atualmente, estão guardadas em espaço chamado de Parque Tecnológico, que fica no Parque Anauá, local onde ficava a sede demolida.
Durante o processo, o MP apontou negligência na segurança, citando a existência de mais de 40 boletins de ocorrência relatando furtos no local.
Recurso aponta prazos inviáveis para construção do museu e falta de pessoal
No recurso apresentado à Justiça, chamado de embargos de declaração, o estado contesta as exigências do magistrado. A PGE destaca que a construção de um museu exige processos demorados e obrigatórios por lei, como projetos arquitetônicos complexos e licitações.
O governo alega também não ter equipe técnica suficiente no estado, como museólogos e arqueólogos, para fazer o inventário exigido em apenas 90 dias.
Segundo a PGE, o acervo conta com mais de 40 mil itens arqueológicos e 17 mil peças botânicas, o que torna o prazo materialmente impossível.
O recurso aponta ainda uma contradição na sentença. Segundo o Estado, uma inspeção da própria Justiça confirmou que o acervo está guardado hoje em um local com boas condições de conservação, com salas climatizadas e mobiliário adequado. Para o governo, isso não justificaria a urgência de construir um novo prédio em 360 dias.
Por fim, a Procuradoria argumenta que a reconstrução do museu já é uma meta prevista no Plano Plurianual (PPA 2024-2027) e que a Justiça não pode atuar como “administradora”, interferindo no orçamento do Poder Executivo.
Determinações da Justiça
Com a condenação inicial (que agora é alvo do recurso), o governo de Roraima ficava obrigado a:
- Realizar um estudo técnico e inventário completo de todo o acervo do MIRR em até 90 dias (Essa etapa deve ser acompanhada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional);
- Identificar, catalogar, verificar o estado de conservação e garantir a guarda correta de todas as peças no mesmo prazo de 90 dias;
- Apresentar o projeto arquitetônico da nova sede em até 180 dias.
- Construir a sede própria e reabrir o museu ao público em até 360 dias.
- Incluir no orçamento anual do Estado os recursos necessários para a manutenção do espaço e do acervo.
- Informar o IPHAN formalmente sobre todas as medidas adotadas em relação a bens arqueológicos.
*Por João Gabriel Leitão e Nalu Cardoso, da Rede Amazônica RR