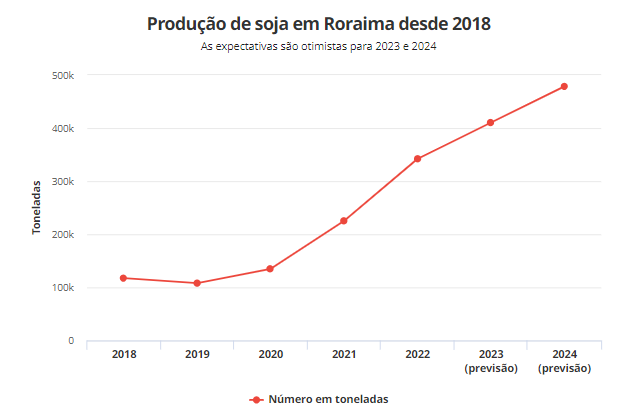A Mineração Rio do Norte (MRN) começou a minerar um novo platô na região amazônica em 2019, mas não consultou quatro comunidades ribeirinhas estabelecidas nas proximidades.
Raimunda de Souza tem 62 anos. Nasceu na Amazônia, num pedaço de floresta banhado por lagos e igarapés. “Um paraíso”, é como ela define o local onde seus pais, avós e bisavós também abriram os olhos pela primeira vez. A memória familiar de Raimunda não alcança limites geográficos para além de Oriximiná, no Pará. O município tem 107,6 km², uma área maior que a de Portugal.
Foi nessa imensidão de floresta que as filhas e os netos de Raimunda também aportaram os pés no mundo, mais especificamente na comunidade de São Tomé, uma das quatro situadas no Lago Maria Pixi, onde vivem outras 183 famílias.
Foto: Brian Garvey/Universidade de Strathclyde
Comunidades tradicionais inviabilizadas
Apesar de ocuparem a região há várias gerações, esses ribeirinhos foram invisibilizados pelo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) realizado para que a Mineração Rio do Norte (MRN) – maior produtora de bauxita do Brasil – pudesse explorar uma nova mina num local conhecido como Platô Aramã. Na fase de licenciamento ambiental, esse estudo é responsável por apontar os prováveis impactos ao ambiente e às pessoas que dele dependem, e apresentar as medidas mitigatórias e compensatórias a serem adotadas.
A Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI-SP) publicou uma análise desse licenciamento ambiental, e apontou falhas graves no EIA, como a afirmação de que “na área do empreendimento não existem comunidades, sejam elas tradicionais ou não”, ou a de que os locais de lavra mineral são “desprovidos de qualquer ocupação humana”.
Prováveis destinatários do impacto da atividade, os ribeirinhos do Maria Pixi só descobriram que a mineradora começaria a escavar o subsolo nas proximidades de suas casas quando escutaram o barulho das máquinas derrubando a floresta. “Nós não fomos consultados”, afirma Jesi Ferreira de Castro, coordenador da comunidade de São Francisco, em referência ao direito assegurado pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) aos povos e comunidades tradicionais.
A licença de operação foi concedida pelo Ibama à mineradora no fim de 2018. Em 2019, os moradores das comunidades São Francisco, São Tomé, São Sebastião e Espírito Santo solicitaram que as obras no Aramã fossem paralisadas até que a empresa realizasse um estudo de impacto específico para as comunidades; uma consulta prévia, livre e informada às comunidades tradicionais ribeirinhas; e que fosse acordado um plano de mitigação e indenização. A reivindicação foi negada pela Mineração Rio do Norte.
Centro comunitário da comunidade Boa Nova, no Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Sapucuá-Trombetas, no Pará. Foto: Teresa Harari
Em fevereiro de 2020,
a equipe da Mongabay visitou Porto Trombetas – vila construída para sediar a MRN em Oriximiná – e perguntou sobre o impasse. Na ocasião, o diretor de sustentabilidade da companhia, Vladimir Moreira, afirmou que apenas povos indígenas e comunidades quilombolas teriam direito à consulta prévia, livre e informada. “Ribeirinhos não são considerados povos tribais”, disse. Entretanto, Moreira assegurou que a empresa estava dialogando com as comunidades.
As tratativas entre a MRN e as comunidades foram suspensas durante o período mais crítico da pandemia de covid-19. Já a mineração, considerada atividade essencial pelo governo de Jair Bolsonaro, seguiu em ritmo acelerado. Imagens de satélite divulgadas pelas CPI-SP mostram que, entre maio de 2020 e outubro de 2021, o platô de 345 hectares foi inteiramente desmatado. “A fartura e o sossego também se acabaram”, disse Raimunda.
Áreas extensas da Floresta Nacional (Flona) Saracá-Taquera, antes cobertas por densa floresta e usadas por dezenas de famílias ribeirinhas para coleta de frutos nativos, foram desmatadas para dar lugar à mina de bauxita de Aramã. Foto: Jesi de Castro
Impactos da mineração no Aramã
Morador da comunidade São Francisco, Humberto de Castro conta que a chegada da mineração à Serra do Aramã e o desmatamento feito no local a partir de 2019 geraram sérios problemas de segurança alimentar para as comunidades do entorno: “agora nós estamos sofrendo necessidade porque, no tempo em que o peixe fica ruim, a gente caça, e quase não tem mais. A gente esperava debaixo do piquiá.”
O piquiazeiro é uma árvore estratégica para prática de caça de espera naquela região, pois a flor do piquiá é muito apreciada por mamíferos como a paca, o caititu e o veado. Na borda do Platô Aramã, havia um exemplar centenário dessa árvore e uma pequena estrutura de madeira – chamada de mutá – onde os ribeirinhos costumavam se abrigar para aguardar a chegada dos animais. Ao lado de castanheiras e outras tantas espécies manejadas pelos povos da floresta, o piquiazeiro tombou para dar lugar à extração mineral. Se já não há flores perfumadas para atrair as caças, sobram ruídos de máquinas trabalhando para afastá-las dali. “Hoje, se quiser pegar algo, você vai passar noite em claro na mata”, diz Iderval Cavalcante, coordenador da comunidade de São Tomé.
Os frutos coletados para consumo próprio ou para geração de renda – como a castanha, o uxi, o patauá e a bacaba – também escassearam. Raimunda de Souza conta que muitas árvores frutíferas foram derrubadas, e que os moradores do entorno ficaram proibidos de acessar o platô. “Pra nós é muito triste ver as nossas florestas, nossas matas se acabando desse jeito. E a água também. Antes a água não era dessa cor, se antes era uma água clara, hoje não é mais, já tá uma água vermelha”, lamenta.
Detalhe de piquiá, árvore amazônica usada como estratégia de caça entre as comunidades ribeirinhas. Foto: Jovinocheik via Wikimedia Commons
Na comunidade de São Sebastião, os moradores relatam que onças começaram a matar os porcos criados para subsistência. “Essas onças, não tinha aí. Elas vêm quando a fome aperta, porque correram com elas de lá porque parte da floresta foi derrubada”, diz o coordenador da comunidade, Diego Gato.
A Mongabay contactou a MRN inúmeras vezes entre 2021 e 2023 para discutir o empreendimento no Aramã. Por email, a assessoria de comunicação disse que a mineradora havia optado por não responder aos questionamentos.
Barreiras temporárias instaladas pela mineradora MRN para tentar conter a erosão do solo e o deslizamento de terra que começaram depois que a companhia desmatou o platô para abrir a mina de Aramã. Foto: Teresa Harari
“Nós nos tornamos pessoas estranhas”
As quatro comunidades impactadas pela exploração mineral do Platô Aramã estão localizadas no Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Sapucuá-Trombetas, criado pelo Incra e o Instituto de Terras do Pará em 2010. O PAE faz limite com Floresta Nacional (Flona) Saracá-Taquera – uma Unidade de Conservação (UC) federal de uso sustentável.
Quando a Flona foi criada, em 1989, com 429 mil hectares, havia comunidades tradicionais centenárias dentro de seus limites. Havia também o maior projeto de exploração de bauxita em operação no Brasil desde a década de 1970. O decreto de criação da UC proibiu a ocupação humana na área, mas resguardou a continuidade da exploração de recursos naturais em escala industrial.
O assentamento, de 67.749 hectares, englobou as moradias e alguns roçados das comunidades. Entretanto, grande parte dos locais onde os ribeirinhos realizavam atividades essenciais, como caça, pesca e extrativismo (de frutos, madeira, palha, cipós, óleos, resinas, cascas de árvores etc.) ficou de fora – no interior da Flona.
“Esses locais, chamados ‘pontos de trabalho’ são parte fundamental do território ocupado pelos ribeirinhos, embora a porção delimitada inclua apenas os pontos de morada e sedes comunitárias”, explica o geógrafo Hugo Gravina, que pesquisa a dinâmica de ocupação ribeirinha na região.
Durante os mais 30 anos que se seguiram à criação da Flona, as comunidades ribeirinhas continuaram a utilizar esses “pontos de trabalho”. Mas, com o início das obras no Aramã, funcionários do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) começaram a monitorar as atividades das famílias ribeirinhas. Em março de 2021, uma operação do ICMBio batizada de Operação Caipora gerou intenso mal-estar entre os comunitários.
Multado em 40 mil reais por plantar em quatro hectares dentro dos limites da Flona, um morador da comunidade de São Sebastião relatou a truculência da abordagem à CPI-SP: “Eles [policiais e funcionários do ICMBio] chegaram em casa, cercando toda a área. Um por trás, outro pelo lado com a mão no gatilho do fuzil. Fiquei até sem reação”. O homem fazia farinha com a mulher e a filha quando foi surpreendido pelos agentes armados. Outro ribeirinho, morador da comunidade de São Sebastião, multado em 20 mil reais, disse que “nunca havia sido avisado, formal ou informalmente, da proibição de se trabalhar ali”.
Assustados com a postura repressiva do órgão gestor da Flona, os moradores estão temerosos em relação ao futuro: “parece até que somos gente estranha. Sem fazer roça, como a gente vai viver?”, pergunta Humberto de Castro.
A vegetação em torno da mina de bauxita de Aramã está coberta por uma poeira vermelha. “Não era assim antes de a mineradora começar as atividades em Aramã”, diz o líder comunitário Jesi de Castro. Foto: Teresa Harari
Questionado sobre a pertinência da operação, o ICMBio não respondeu às inúmeras tentativas de contato feitas pela reportagem ao longo de 2021 e 2022. Apenas em 2023, após a mudança no governo federal, é que o Núcleo de Gestão Integrada ICMBio-Trombetas se manifestou por email. Afirmou que os autuados “não são moradores tradicionais Floresta Nacional Saracá-Taquera” e “não possuíam Autorização Direta para desmatamento, com objetivo de estabelecer agricultura de subsistência”.
De acordo com relatos dos comunitários ouvidos pela reportagem, todos os autuados na Operação Caipora são nascidos nas comunidades do Maria Pixi, embora um documento enviado pelo ICMBio ao Ibama afirme que eles só ocuparam a Flona recentemente, a partir de 2018. A pesquisa realizada por Gravina mostra que as áreas da Flona utilizadas pelos atuais moradores das comunidades ribeirinhas, em muitos casos, são as mesmas manejadas pelos seus bisavôs, avôs, remontando ao histórico de ocupação de quatro a seis gerações.
Esses grupos que já habitavam a Flona quando ela foi criada lutam para que seja reconhecido seu uso também nas áreas que conflitam com os interesses minerários ou madeireiros, mas esbarram na visão de sustentabilidade expressa pelo órgão ambiental. De acordo com o estudo publicado pela CPI-SP e conduzido pela pesquisadora Ítala Nepomuceno, o plano de manejo, documento que regulamenta a ocupação da Flona, “expressa profundo preconceito em relação às comunidades quilombolas e ribeirinhas”. Enquanto as práticas tradicionais são qualificadas como carentes de “critérios de racionalidade e sustentabilidade”, a MRN está associada à aplicação de conhecimento técnico-científico e ao uso de “tecnologias ambientais” para mitigação de impactos de suas atividades.
O ICMBio está revisando o plano de manejo da Flona e, apesar de reconhecer a ocupação humana na unidade de conservação, disse à Mongabay não saber se ali “existem atividades extrativistas e lícitas ou apenas atividades não extrativistas e ilícitas”.
Quem são os beneficiários do direito de consulta?
Os ribeirinhos obtiveram uma vitória parcial quando, em agosto de 2021, o Ibama solicitou à MRN um estudo sobre os possíveis impactos socioambientais do empreendimento no Platô Aramã. Entretanto, o diagnóstico, realizado pela Golder Associates Brasil, consultoria contratada pela MRN, não identificou “relação causal entre as atividades minerárias no Platô Aramã e as questões reportadas pelas comunidades do Lago Maria Pixi” no que se refere à qualidade da água, ao ruído e à disponibilidade de caça, pesca e extrativismo vegetal”. Com base nesse estudo, em agosto de 2022, o Ibama decidiu que não há necessidade de alterar a licença de operação do empreendimento para incluir um plano de mitigação de danos e indenização às comunidades.
O parecer do Ibama justifica afirma que as comunidades ribeirinhas não se equiparam a povos tribais e que, portanto, não seria necessário realizar uma consulta nos moldes da Convenção 169 da OIT. Uma espiada rápida no portal da 6ª Câmara do Ministério Público Federal, responsável pelos temas relativos a povos indígenas e comunidades tradicionais, mostra uma interpretação oposta: o Enunciado 17 , editado em 2014, diz que “as comunidades tradicionais estão inseridas no conceito de povos tribais da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho”.
Quando as obras na mina de Aramã começaram, surgiram faixas proibindo a entrada das famílias ribeirinhas na Floresta Nacional Saracá-Taquera, local que essas comunidades visitaram por muitos anos para coletar produtos florestais. Foto: Jesi de Castro
E, de acordo com o jurista Carlos Marés de Souza Filho, “o termo povos tribais, utilizado na Convenção 169, diferenciando de povos indígenas deve ser entendido no mesmo sentido que populações, grupos ou comunidades tradicionais não indígenas usadas pelas leis brasileiras”. As normativas que, intencionalmente ou não, deixam de mencionar as demais populações tradicionais não podem se sobrepor à Convenção 169, pois ela equivale a um tratado internacional de Direitos Humanos. É o que ele explica em
artigo publicado recentemente: “a sua aplicação não pode ser afastada por nenhum ato legal, seja Lei Complementar, Lei Ordinária, Medida Provisória, Decreto, Portaria etc. Isto significa que a conduta do Poder Público, em especial da Administração Pública, não pode deixar de observar os critérios estabelecidos na Convenção 169 sob alegação de que outras leis lhe são incompatíveis.”
Ao fazer prevalecer um entendimento diferente do explicado por Marés e adotado pelo MPF, o Ibama impede a caracterização das violações aos direitos dos ribeirinhos. Dessa forma, permite que outras instituições, como certificadoras e fabricantes de automóveis, tornem-se coniventes com os impactos socioambientais.
Risco de greenwashing?
Em fevereiro de 2022, enquanto os ribeirinhos ainda aguardavam a divulgação dos resultados do estudo solicitado pelo Ibama, a Mineração Rio do Norte recebeu a certificação internacional
Aluminium Stewardship Initiative (ASI) no padrão de Desempenho. O selo avalia a cadeia de valor do alumínio e funciona como uma espécie de garantia para grandes consumidores – como as montadoras de automóveis, por exemplo – de que seus fornecedores trabalham com altos padrões de responsabilidade social e ambiental. Entre os critérios avaliados está também o respeito aos Direitos Humanos individuais e coletivos afetados pelas operações de extração de bauxita.
A reportagem entrou em contato com Fiona Solomon, diretora executiva da ASI, e questionou se, durante o processo de certificação, os auditores ouviram os ribeirinhos do Maria Pixi sobre as controvérsias relativas à mineração no platô Aramã. De acordo com Solomon, o empreendimento não foi mencionado durante a auditoria.
Numa carta pública endereçada à ASI em fevereiro de 2022, a Human Rights Watch (HRW) recomendou, entre outros pontos, que a ASI desenvolva, “em seu padrão de direitos humanos, critérios focados na resultados sofridos pelas comunidades afetadas, em vez de se basear nos sistemas e processos de gestão que as empresas possuem.” O caso que chamou a atenção da HRW para a necessidade de aprimoramento nas normas adotadas pela ASI foi o de mineradoras certificadas na Guiné, no oeste da África, cujas atividades resultaram em graves violações de direitos humanos a comunidades locais.
De toda forma, aplica-se também à MRN o receio expresso na carta de que “auditorias que não acessam os impactos reais causados no chão contribuem para aumentar a preocupação com greenwashing por parte de múltiplos atores”. O greenwashing é um tipo de maquiagem verde, que cria um rótulo de sustentabilidade para práticas que envolvem algum tipo de prejuízo socioambiental.
Centro comunitário localizado às margens do Lago Maria Pixi, no Projeto de Assentamento Agroextrativista Sapucuá-Trombetas. Foto: Brian Garvey, Universidade de Strathclyde e projeto “Biografias não-autorizadas das cadeias de commodities”, financiado pela British Academy
Possibilidades de mudanças no horizonte
Da mesma forma que o ICMBio, o Ibama só retornou os pedidos de entrevista feitos pela reportagem em 2023, apesar das tentativas feitas nos anos anteriores. Afirmou que a gestão atual do instituto “pretende reavaliar orientações internas relacionadas à Convenção OIT nº 169”. O objetivo, segundo a assessoria de comunicação do órgão, seria “buscar aproximação com as comunidades tradicionais para melhor compreender os impactos de empreendimentos no modo de vida dessas populações e exigir dos empreendedores medidas que reduzam ou compensem adequadamente esses impactos”.
Entre as comunidades do PAE Sapucuá-Trombetas, a expectativa é que essa reavaliação sirva para o licenciamento do “Projeto Novas Minas”, que deverá desmatar e escavar 6.446 hectares de florestas nativas entre 2026 e 2042. O Platô Aramã já foi totalmente explorado está agora em fase de reflorestamento. Aos ribeirinhos do Maria Pixi, resta aguardar a implementação das medidas de compensação ambiental, que adquiriram um tom de favor da empresa às comunidades a partir do momento em que os impactos foram considerados indiretos.
De acordo com Lúcia Andrade, coordenadora executiva da CPI-SP, “é importante ressaltar que estudos capazes de avaliar os impactos cumulativos e sinérgicos ao longo de 40 anos de atividade minerária, em Oriximiná, são necessários e, até o presente, ausentes. Estudos dessa natureza contribuiriam para que pudéssemos compreender a real magnitude gerada pelos impactos da mineração sobre as comunidades locais e o meio ambiente.”
Enquanto essa avaliação não acontece, os ribeirinhos do Maria Pixi lutam como podem contra a invisibilidade: “a mineradora tem muito dinheiro e poder, e nós só temos a nossa palavra mesmo”, conclui Jesi Ferreira, responsável por grande parte da apuração desta reportagem.
*O conteúdo foi originalmente publicado pela Mongabay, escrito por Thaís Borges e Sue Branford