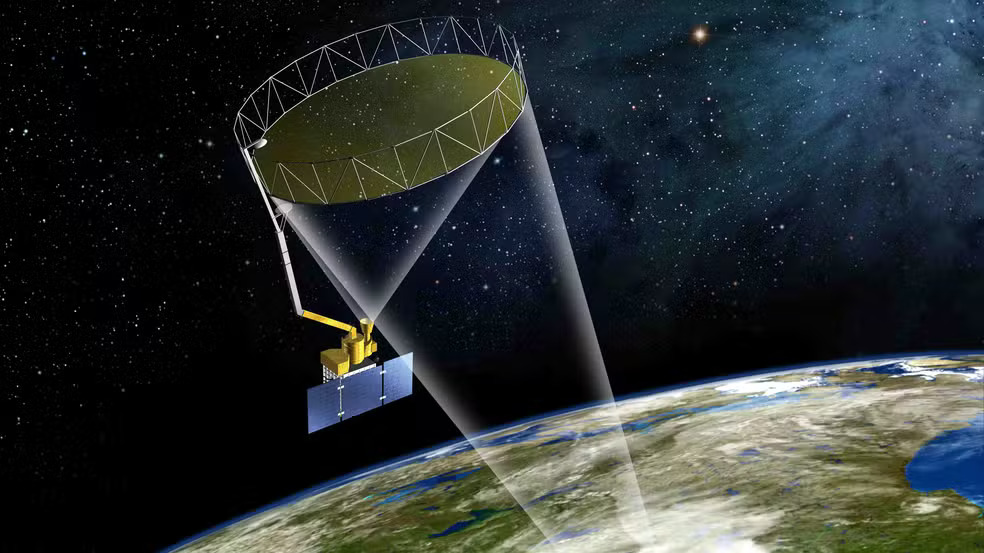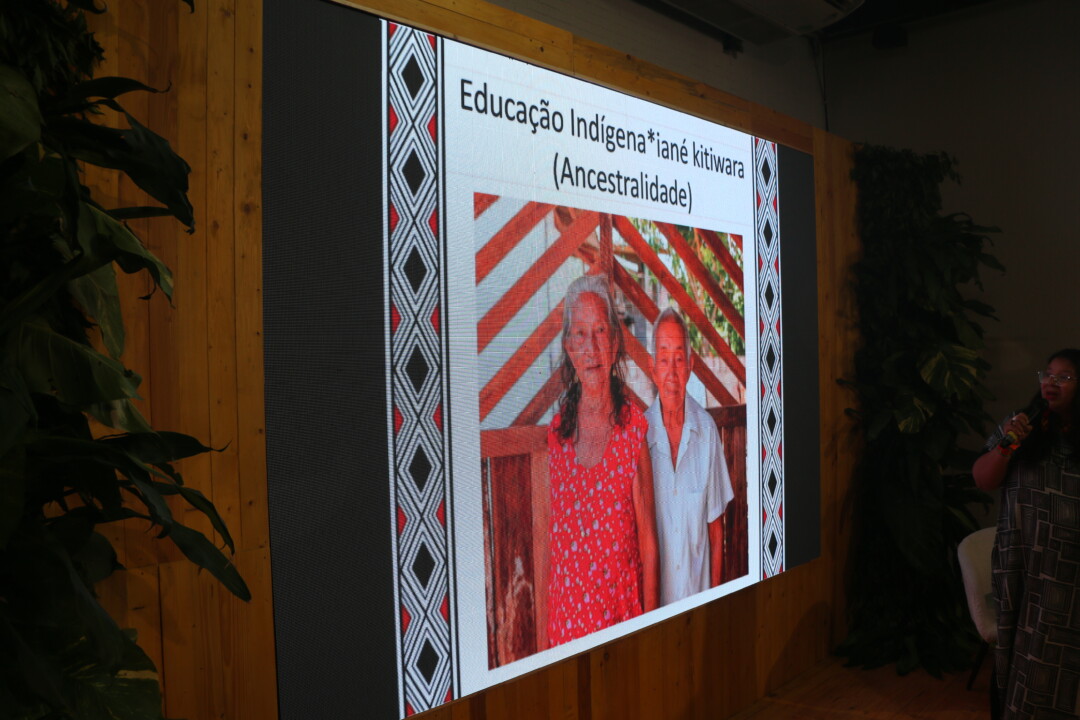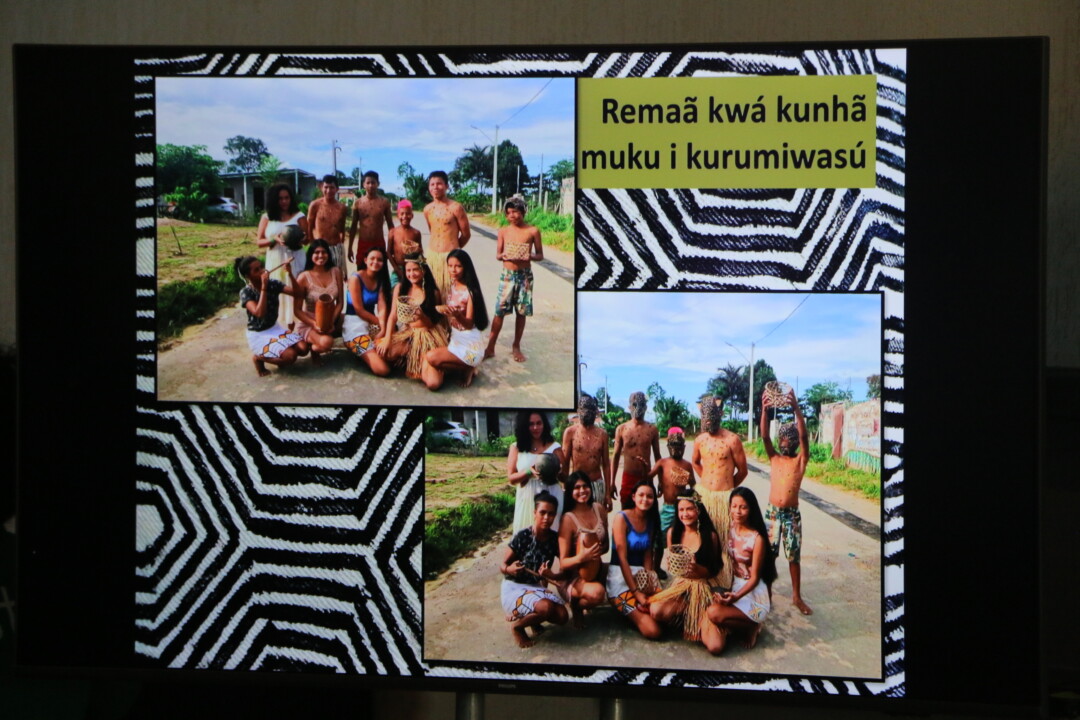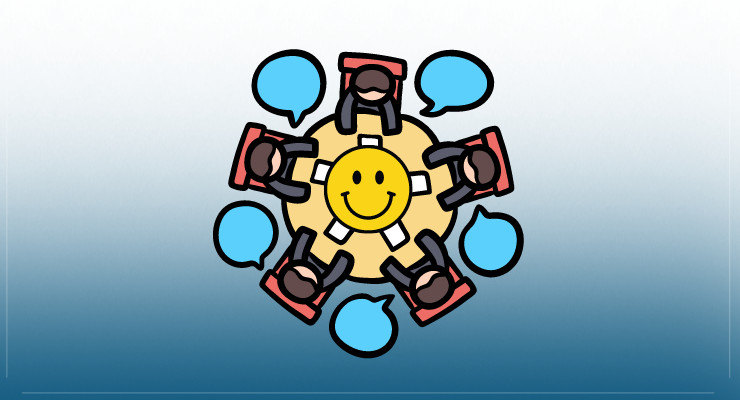Em uma cena de Teko Haxy – Ser imperfeita (2018), das cineastas Patrícia Ferreira Pará Yxapy, da etnia Guarani Mbya, e a não indígena Sophia Pinheiro, a primeira diz: “Acho que vocês [brancos] não queriam que a gente existisse”. No filme, espécie de diário cotidiano coletivo, as mulheres partilham angústias, memórias e questões do dia a dia, como preparar uma galinha ou lidar com dores no corpo. “Em geral, as narrativas dessas mulheres partem de um lugar bastante íntimo e o cinema funciona como uma cesta, na qual se guarda o que depois se compartilha”, comenta Pinheiro, professora da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), em São Paulo. “Por meio da linguagem audiovisual, elas podem contar suas próprias histórias.”
Na pesquisa de mestrado em antropologia, defendida em 2015 na Universidade Federal de Goiás (UFG), Pinheiro estudou a trajetória de Ferreira. Constatou que a autoria feminina ainda passa por apagamentos em razão do machismo dentro e fora das aldeias. No doutorado em cinema na Universidade Federal Fluminense (UFF), concluído em 2023, ela aprofundou a investigação. Além de Ferreira, examinou também a produção fílmica de Flor de María Alvarez Medrano, da etnia Maya, na Guatemala, e Graciela Guarani, da etnia Guarani Kaiowá, de Mato Grosso do Sul. No ano passado, a pesquisadora ajudou a criar a Katahirine – Rede Audiovisual das Mulheres Indígenas, que busca mapear e divulgar a produção indígena de autoria feminina no Brasil, além de fomentar parcerias. A ideia foi concebida pela cineasta não indígena Mari Corrêa, do Instituto Catitu (SP), que coordena a rede com Pinheiro e a jornalista e cineasta Helena Corezomaé, da etnia Umutina (MT).
A iniciativa reúne hoje 67 cineastas de 33 etnias espalhadas pelo país, além de contar com seis conselheiras indígenas, a exemplo de Ferreira. Ela codirigiu cinco filmes, entre eles, Bicicletas de Nhanderu (2011), feito em parceria com seu companheiro, o realizador Ariel Karay Ortega, também da etnia Guarani Mbya, no Rio Grande do Sul. Além disso, contribuiu como roteirista no longa A transformação de Canuto (2023), dirigido por Ortega e pelo antropólogo não indígena Ernesto de Carvalho. No final do ano passado, a produção conquistou os prêmios de melhor filme e contribuição artística na competição Envision, do Festival Internacional de Documentários de Amsterdã (IDFA, na sigla em inglês), na Holanda.
O longa reencena a história contada por anciões de uma aldeia Guarani Mbya, na fronteira do Brasil com a Argentina, sobre um homem que se transforma em onça e morre de forma trágica. “É uma obra que combina elaboração ficcional e documental, explicitando na narrativa o seu processo de feitura”, analisa André Guimarães Brasil, professor de cinema na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pesquisador de poéticas audiovisuais indígenas. Em abril, ele foi um dos debatedores do filme no 10º Colóquio Cinema, Estética e Política, promovido naquela universidade.
De acordo com Brasil, a produção fílmica de realizadores indígenas vem se consolidando nos últimos anos no país.
“Em função de políticas afirmativas, por exemplo, mais indígenas têm se formado nas universidades brasileiras, com crescente interesse por cinema e audiovisual. Vários deles já dão oficinas de formação nesse campo”, relata.
Dentre eles está o cineasta e educador guarani Alberto Alvares Tupã Ra’y, graduado na Formação Intercultural para Educadores Indígenas, oferecida pela Faculdade de Educação da UFMG desde 2009. “Hoje vou para vários territórios, em todo o país, dar oficinas para os parentes”, conta Alvares.
Com 11 anos de carreira, o cineasta calcula ter dirigido cerca de 20 filmes. Em sua pesquisa de mestrado em cinema e audiovisual, cuja dissertação foi defendida em 2021 na UFF, ele reflete sobre o próprio fazer cinematográfico “na fronteira entre o conhecimento guarani e o não guarani” ao examinar o arquivo bruto de dois de seus longas, Guardiões da memória (2018) e O último sonho (2019). “Nós, os Guarani, somos um povo da oralidade. A gente não sabe como vai ser o amanhã. O tempo todo estamos sendo encurralados. Por isso, um filme pode ser um guardião da memória dos mais velhos, uma maneira de compartilhar esse saber e preservar nossa tradição”, constata Alvares.
Seu longa mais recente, Yvy Pyte – Coração da Terra (2023), foi exibido neste ano na abertura do forum.doc – Festival do Filme Documentário e Etnográfico, em Belo Horizonte, e na 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes, ambos em Minas Gerais. “Hoje, temos mostras e festivais especializados ou não que exibem, premiam e discutem os filmes feitos por indígenas”, diz Brasil, da UFMG. “Essa movimentação faz com que o interesse sobre o tema na universidade cresça e impulsione a realização de pesquisas.”
O múltiplo conjunto audiovisual que se convencionou em chamar de “cinema indígena” reúne filmes com essa temática realizados em parceria com diretores não indígenas, além das produções etnográficas, capitaneadas geralmente por antropólogos visuais ou pesquisadores de áreas afins. Para o norte-americano Robert Stam, da Universidade de Nova York (EUA), os indígenas brasileiros hoje transitam por uma ampla gama de mídias e formatos, que abarcam desde clipes no YouTube a videoperformances, exibidas em museus, galerias e bienais de arte.
“O ativismo audiovisual indígena no Brasil tem muito a ver com a internet”, afirma. “Um dos conceitos que utilizo em minhas pesquisas é o do ‘índio [sic] tecnicizado’, proposto pelo modernista Oswald de Andrade [1890-1954], justamente como oposição à ideia preconceituosa de que o indígena que interage com tecnologia não é mais indígena. Os indígenas nunca pararam de criar e absorver tecnologias.”

Em 2023, Stam lançou o livro Indigeneity and the decolonizing gaze: Transnational imaginaries, media aesthetics, and social thought (Bloomsbury Academic) ou, em livre tradução, Indigeneidade e o olhar descolonizador: Imaginários transnacionais, estética midiática e pensamento social, ainda inédito no Brasil. Na obra, dedica um dos capítulos à representação do indígena no cinema brasileiro desde a época dos filmes silenciosos. Segundo o pesquisador, a temática está presente na produção audiovisual brasileira a partir da década de 1910. Exemplo disso são os documentários dirigidos por Luiz Thomaz Reis (1878-1940), major e cinegrafista das expedições do marechal Cândido Rondon (1865-1958), do então Serviço de Proteção ao Índio (ver Pesquisa FAPESP nº 255). Alguns anos mais tarde, vieram os longas do cineasta Humberto Mauro (1897-1983), caso de Descobrimento do Brasil (1937), que romantiza os colonizadores portugueses. De acordo com Stam, nesses filmes e em muitos posteriores, a representação dos grupos e sujeitos indígenas oscilou entre os “bons selvagens”, passivos e submissos, e os “maus”, que se opunham à dominação dos brancos.
As primeiras experiências de autorrepresentação indígena no país só vieram acontecer no final do século XX. Foi quando surgiram oficinas de formação audiovisual voltadas para esse público, impulsionadas por duas novidades: a tecnologia VHS e os equipamentos portáteis de vídeo. É o caso do Vídeo nas Aldeias (VNA), projeto independente criado em 1986 pelo cineasta e indigenista franco-brasileiro Vincent Carelli. A princípio, a ideia era exibir na aldeia as imagens filmadas ali pela equipe do projeto e incorporar as sugestões da própria comunidade ao material. Porém a partir de 1997, a iniciativa, que está até hoje na ativa, passou a oferecer oficinas de capacitação para os indígenas dirigirem seus próprios filmes.
“O VNA contribuiu para a formulação de políticas públicas para o audiovisual feito nas aldeias. No final da década de 2000, por exemplo, o projeto participou do desenvolvimento dos Pontos de Cultura Indígena, do Ministério da Cultura, que mais tarde, em 2015, passaram a premiar iniciativas específicas para o audiovisual”, informa Bernard Belisário, do Centro de Formação em Artes e Comunicação da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e colaborador do projeto desde 2011. “Outro legado é a constituição de um acervo de imagens ao longo desses anos, que hoje começa a ser disponibilizado para as comunidades, nas aldeias.”

No mestrado concluído em 2014 na UFMG, Belisário analisou o filme As hiper mulheres (2011), dirigido pelo cineasta Takumã Kuikuro, da etnia Kuikuro, formado pelo VNA, em parceria com os não indígenas Carlos Fausto e Leonardo Sette. Já no doutorado, defendido em 2018 na mesma instituição, ele pesquisou a produção audiovisual do realizador Divino Tserewahú, da etnia A’uwe Xavante, que também passou pelo VNA. O trabalho de campo rendeu o filme Waia rini (2015), dirigido por Tserewahú e Belisário.
As demandas por terras e por direitos têm sido uma forte motivação para a realização de trabalhos audiovisuais pelos indígenas, comenta a antropóloga Ana Lúcia Ferraz, professora da UFF e coordenadora do Laboratório do Filme Etnográfico daquela universidade. A pesquisadora já se dedicava à etnografia audiovisual quando fez um documentário com um grupo da etnia Guarani Mbya que havia saído de Paraty para se radicar em Maricá, ambas cidades fluminenses. Esse encontro fomentou em 2014 a criação de um programa de extensão universitária de formação em processos audiovisuais com grupos da etnia Guarani Mbya, no Rio de Janeiro, e os Kaiowá e Nhandeva, em Mato Grosso do Sul.
Na sequência, Ferraz passou a acompanhar os Nhandeva, da Terra Indígena Potrero Guaçu (MS), em seu processo de retomada do território e recuperação dos próprios saberes. Juntos, já produziram um filme, Nhande ywy, nosso território (2018), e no momento finalizam um novo longa. Atualmente, a pesquisadora está filmando com outro grupo, os A’uwe Xavante (MT), cujo território está ameaçado pela construção de quatro centrais hidrelétricas no rio das Mortes.

Ferraz é também uma das docentes da disciplina de pós-graduação O cinema indígena: Do território à tela, ministrada em 2022 e 2023 no Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Universidade de São Paulo (Diversitas-USP). De acordo com a pesquisadora, a iniciativa deve ser retomada no ano que vem. Pela proposta, estudantes de mestrado ou doutorado da universidade, indígenas ou não, realizam seus próprios vídeos em parceria com comunidades indígenas. Os três documentários produzidos até então, como Fora do lugar, compuseram uma mostra no Museu das Culturas Indígenas, na capital paulista, em junho.
Feitos em intensa negociação com os anciãos e os pajés da aldeia, os filmes indígenas trazem a marca da escuta: não se realizam sem consulta e diálogo. “Toda a vez que vou produzir um filme, converso com as comunidades para saber que tipo de sentimento elas querem guardar nesse mundo da imagem”, conta Alvares. Essa é também a preocupação da antropóloga e cineasta Alice Villela, da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Entre 2006 e 2015, ela pesquisou a recepção e a produção de imagens entre os Asurini do Xingu (PA) no mestrado, na Unicamp, e no doutorado, na USP. Ambos tiveram apoio da FAPESP.
Em suas pesquisas, a estudiosa ressalta a importância do “mapeamento” cuidadoso dos conceitos nativos relativos ao campo da imagem, pois há sempre a possibilidade de mal-entendidos. “É uma tradução que não é apenas linguística, mas cosmológica”, observa Villela. “Para os Asurini do Xingu, as imagens fotográficas e audiovisuais despertam várias interpretações. Mobilizam, por exemplo, o ynga, o princípio vital, um fundamento de sua cosmologia que está diretamente vinculado à prática do xamanismo.” Ao mesmo tempo, segundo ela, a imagem pode ser muito política: cumpre um papel de visibilidade, de comunicação e de produção de documentos que embasam lutas por direitos.
Os trabalhos audiovisuais mais recentes de Villela acompanham o grupo Sabuká Kariri-Xocó, de Alagoas, em seus rituais e atividades cotidianas, mas também nos deslocamentos que fazem para garantir a sobrevivência e nas lutas por seu território, homologado, mas tomado por posseiros. O contato com o grupo se iniciou durante sua pesquisa de pós-doutorado, concluída em 2022 na USP, que integrou o projeto temático financiado pela FAPESP, “O musicar local: Novas trilhas para a etnomusicologia”.
Um dos resultados do estudo é Toré (2022), filme sobre o fazer musical desse grupo indígena nas terras retomadas. “A eles interessa que as imagens circulem, já que buscam visibilidade política. O território demarcado em que vivem é menor do que aquele que está na memória dos antepassados, que chamam de ‘território memorial’”, conta. Como os demais, o longa-metragem que está finalizando com o cineasta não indígena Hidalgo Romero também reflete as negociações com a comunidade. “O pajé Pawanã Crody contribuiu desde a ideia inicial do filme. Nesse momento, ele tem participado da etapa de edição, comentando as filmagens ou chamando a atenção para algo que nos passou despercebido”, finaliza Villela.
- A reportagem acima foi publicada com o título “Tela demarcada” na edição impressa nº 342, de agosto de 2024.
Projeto
Taquaras, tambores e violas: Relações entre musicar e localidade na construção de narrativas audiovisuais (nº 17/21063-1); Modalidade Bolsa de pós-doutorado; Pesquisadora responsável Rose Satiko Gitirana (FFLCH-USP); Bolsista Alice Martins Villela Pinto; Investimento R$ 431.652,32.
Artigos científicos
BELISÁRIO, B. Rebobinando a fita: Arqueologia do videotape nas aldeias. GIS – Gesto, Imagem e Som – Revista de Antropologia. USP. v. 7, n. 1. 2022.
FERRAZ, A. L. Os cantos-dança guarani, sua territorialidade cósmica e a etnografia como antropologia modal. Proa: Revista de Antropologia e Arte. Unicamp. v. 13. 2023.
Livro
STAM, R. Indigeneity and the decolonizing gaze: Transnational imaginaries, media aesthetics, and social thought. Londres (Reino Unido): Bloomsbury Academic, 2023.
Capítulo de livro
BRASIL, A. “De uma a outra imagem”. In: FURTADO, B. e DUBOIS, P. (org.). Pós-fotografia, pós-cinema: Novas configurações das imagens. São Paulo: Edições Sesc, 2019.
*O conteúdo foi originalmente publicado por Revista Pesquisa FAPESP ,de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.