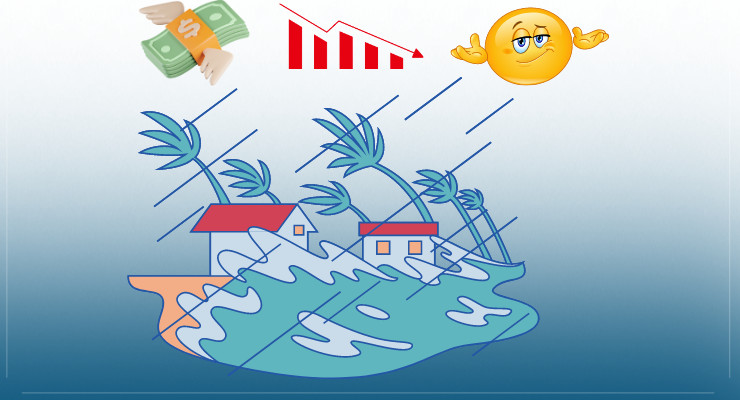Aymoré chegou à região apenas dois anos após a abertura da BR-364. Foto: Júlio Olivar
Por Júlio Olivar – julioolivar@hotmail.com
O sargento da reserva da Aeronáutica Aymoré Barros Pereira, pioneiro da aviação em Vilhena, faleceu nesta sexta-feira, 26, aos 88 anos de idade, no Hospital Regional, após uma cirurgia para tratar de uma hérnia. Natural de Minas Gerais, ele mudou-se para Vilhena (sul de Rondônia) em 1962, apenas dois anos após a abertura da rodovia BR-29 (atual 364), que impulsionou a migração e a criação de vários municípios no estado.
Aymoré chegou a Vilhena em maio de 1962, aos 26 anos de idade (nascido em 12 de maio de 1936). O antigo aeroporto, localizado às margens da BR-364, tornou-se o epicentro da vila que se formava ao redor dele. O jovem sargento Aymoré destacou-se como uma das primeiras figuras importantes em Vilhena. Ele recorda: “Lembro-me de seu Alfredo [Fontinelli, um agricultor cearense], com seu semblante humilde e sua boa família. Além disso, havia outras pessoas, remanescentes da Camargo Corrêa e do DNER”.
A primeira missa em Vilhena ocorreu em 1963, no pátio da FAB (Força Aérea Brasileira), próximo ao aeroporto. Recebido por Aymoré, o padre Ângelo Spadari, da Itália, celebrou a missa para 35 pessoas durante a Semana da Asa, em homenagem a Santos Dumont. O local dessa missa é atualmente próximo ao número 3009 da avenida Sabino Bezerra de Queiroz, dentro da Vila da Aeronáutica, onde também está situada a primeira casa de alvenaria construída no núcleo urbano.

O surgimento da FAB exigiu a presença de 12 operários civis vindos do Pará e do Rio de Janeiro, com experiência em motores geradores de energia elétrica, meteorologia, telegrafia, radioamadorismo e outros conhecimentos essenciais para o funcionamento do aeroporto. Eles atuaram sob o comando de Aymoré, também conhecido como Sargento Pereira.
Aymoré era uma figura respeitada na comunidade e frequentemente consultado para resolver problemas, inclusive questões conjugais. Sua calma, habilidade e discrição contribuíram para o desenvolvimento de Vilhena.

Em 1962, a pista do aeroporto recebeu um radiofarol para auxiliar na navegação das aeronaves. Naquele mesmo ano, a VASP realizou seu primeiro voo com um DC-3, transportando passageiros e cargas. A professora Noeme Barros Pereira, esposa de Aymoré, também desempenhou um papel importante na vila. Além da VASP, outras empresas aéreas operavam em Vilhena, incluindo a Taba (Transportes Aéreos Regionais da Bacia Amazônica) a partir de 1976, bem como o Correio Aéreo Nacional e os táxis aéreos.
Aymoré casou-se com Noeme em 1962, quando ela tinha 19 anos e veio de Pimenta Bueno para trabalhar como professora – a primeira da vila. O casal teve sete filhos, que desfrutavam da liberdade e disciplina enquanto brincavam no Rio Piracolino. Aymoré acreditava no potencial de Vilhena e nunca quis deixar a cidade. Hoje, Vilhena é um polo regional com o segundo melhor IDH do Estado. O corpo de Aymoré será sepultado neste sábado, 27, às 17h, no Cemitério Cristo Rei.
Sobre o autor
Júlio Olivar é jornalista e escritor, mora em Rondônia, tem livros publicados nos campos da biografia, história e poesia. É membro da Academia Rondoniense de Letras. Apaixonado pela Amazônia e pela memória nacional.
*O conteúdo é de responsabilidade do colunista